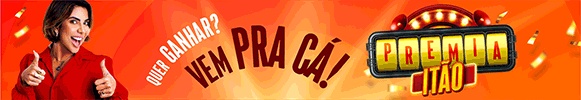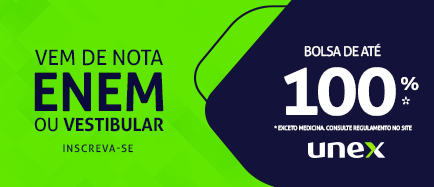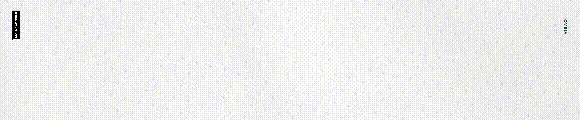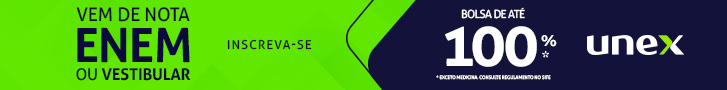O BRASIL PEQUENO E SEM SOTAQUE
 O poder da comunicação torna o Brasil pequeno e quase o faz perder o sotaque. Como a tevê, principal influenciador nessa mudança, nos remete diariamente os falares do leste, estes já se fazem sentir no nordeste, de forma avassaladora. Por aqui poucos dizem, como se dizia há meio século (para ficarmos em exemplos “culinários”) badéjo e grélha, mas badêjo e grêlha. Dia desses, ouvi a moça de um telejornal de Itabuna pronunciar futêból, um falar de paulista mal informado – todos sabem que a pronúncia nacional é algo próximo a futibol. Tais escolhas poderiam, no máximo, ser consideradas regionalismos, mas nunca ser aceitas como norma geral.
O poder da comunicação torna o Brasil pequeno e quase o faz perder o sotaque. Como a tevê, principal influenciador nessa mudança, nos remete diariamente os falares do leste, estes já se fazem sentir no nordeste, de forma avassaladora. Por aqui poucos dizem, como se dizia há meio século (para ficarmos em exemplos “culinários”) badéjo e grélha, mas badêjo e grêlha. Dia desses, ouvi a moça de um telejornal de Itabuna pronunciar futêból, um falar de paulista mal informado – todos sabem que a pronúncia nacional é algo próximo a futibol. Tais escolhas poderiam, no máximo, ser consideradas regionalismos, mas nunca ser aceitas como norma geral.
________________
Dicionários só registram, não avalizam
Para o bem ou para o mal a língua se forma nas ruas e nos becos, não nos gabinetes e salas de aula. Daí, quando essa pressão “popular” se torna forte, o termo se consolida, os dicionários o abrigam – e, consequentemente, lhe conferem identidade “legal”. Mas é importante lembrar que dicionários são repositórios de palavras existentes, sem avalizá-las ou recomendar seu uso. No caso dos verbetes badejo e grelha os dicionários se renderam à realidade das ruas: antes, os grafavam tendo o “e” com som aberto, hoje usam as duas formas. Logo, se você quer perder o DNA de nordestino, esteja à vontade para pedir badêjo na grêlha (argh!).
COMENTE » |
BREVE ANEDOTA DE CANDIDATO A PREFEITO
 A quem pretenda escrever sobre o folclore político de Itabuna (creio que existe mais de um projeto em gestação) adianto esta, sem custos: em 1966, José Soares Pinheiro, o Pinheirinho, disputava com José de Almeida Alcântara a eleição de prefeito do município. Líder conservador muito conceituado, rico, não era páreo para o populismo de Alcântara (que o derrotaria por pouco mais de mil votos). Sua fama “elitista” foi aumentada pelo boato de que alguém lhe falara da necessidade de ir à Califórnia e ele respondera que seu passaporte estava vencido. Queriam dizer que o candidato sequer conhecia os bairros de Itabuna. Pura maldade, já se vê.
A quem pretenda escrever sobre o folclore político de Itabuna (creio que existe mais de um projeto em gestação) adianto esta, sem custos: em 1966, José Soares Pinheiro, o Pinheirinho, disputava com José de Almeida Alcântara a eleição de prefeito do município. Líder conservador muito conceituado, rico, não era páreo para o populismo de Alcântara (que o derrotaria por pouco mais de mil votos). Sua fama “elitista” foi aumentada pelo boato de que alguém lhe falara da necessidade de ir à Califórnia e ele respondera que seu passaporte estava vencido. Queriam dizer que o candidato sequer conhecia os bairros de Itabuna. Pura maldade, já se vê.NOMES LEMBRADOS COM SAUDADE E GRATIDÃO
 Venho da longa noite dos tempos, quando quem escrevia em jornal era jornalista. Convivi com os grandes nomes da imprensa regional da época, dos quais destaco, com saudade e gratidão, Telmo Padilha, Milton Rosário e Myrtes Petitinga. Com eles dividi o cinzeiro da redação (então, fumar não nos fazia criminosos). Telmo teve vitoriosa carreira de escritor e Milton (poeta inédito) se dedicou também ao rádio (foi responsável, com Gonzalez Pereira, Lucílio Bastos, Alex Kfoury e outros pelo melhor período da Rádio Difusora); Myrtes Petitinga era, avant la lettre, multimídia: dominava as linguagens de jornal, rádio e publicidade, além de saber muito de música. Para má sorte dela, a tevê não existia. Se existisse ele faria – e bem.
Venho da longa noite dos tempos, quando quem escrevia em jornal era jornalista. Convivi com os grandes nomes da imprensa regional da época, dos quais destaco, com saudade e gratidão, Telmo Padilha, Milton Rosário e Myrtes Petitinga. Com eles dividi o cinzeiro da redação (então, fumar não nos fazia criminosos). Telmo teve vitoriosa carreira de escritor e Milton (poeta inédito) se dedicou também ao rádio (foi responsável, com Gonzalez Pereira, Lucílio Bastos, Alex Kfoury e outros pelo melhor período da Rádio Difusora); Myrtes Petitinga era, avant la lettre, multimídia: dominava as linguagens de jornal, rádio e publicidade, além de saber muito de música. Para má sorte dela, a tevê não existia. Se existisse ele faria – e bem._______________
Hoje, bacharel em comunicação chama-se comunicólogo, enquanto a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) se digna de reconhecer como “jornalista profissional” apenas quem tiver o diploma universitário específico. Foram-se os tempos, foram-se os termos. Jornalista profissional, conforme aprendi e professo, é quem atende a três condições: 1) escreve em veículo de comunicação (seja jornal ou outro); 2) faz isto como rotina (não vale matérias eventuais) e 3) é remunerado por essa atividade. O conceito de “profissional” nasce da noção de pagamento pelo trabalho. Quem escreve de graça (salvo a exceção de ser dono do veículo) pode até ser considerado jornalista profissional pela Fenaj, mas não pela ética.
COMENTE» |
QUANDO A PAIXÃO PARECE MISANTROPIA
 Ouvi Nuvem negra, de Djavan, pela primeira vez, no programa de Jô Soares (com Gal Costa) e, emocionado, vi ali a minha cara. Uma espécie de hino à solidão, um canto à misantropia, o retrato dos que gostam de ficar sós. “Não vou sair,/ se ligarem não estou”, diz o poeta – acrescentando um verso fundamental, que dá a seu isolamento um quê de eternidade: “À manhã que vem, nem bom-dia eu vou dar”. Mas, como todo bom texto, Nuvem negra se abre para mais de uma leitura, revelando-se, ao final, uma canção romântica: “Esse amor que é raro/ e é preciso/ pra nos levantar/ me derrubou/ não sabe parar de crescer e doer”. Não é um grito de solidão, mas de paixão.
Ouvi Nuvem negra, de Djavan, pela primeira vez, no programa de Jô Soares (com Gal Costa) e, emocionado, vi ali a minha cara. Uma espécie de hino à solidão, um canto à misantropia, o retrato dos que gostam de ficar sós. “Não vou sair,/ se ligarem não estou”, diz o poeta – acrescentando um verso fundamental, que dá a seu isolamento um quê de eternidade: “À manhã que vem, nem bom-dia eu vou dar”. Mas, como todo bom texto, Nuvem negra se abre para mais de uma leitura, revelando-se, ao final, uma canção romântica: “Esse amor que é raro/ e é preciso/ pra nos levantar/ me derrubou/ não sabe parar de crescer e doer”. Não é um grito de solidão, mas de paixão.Se fosse para definir Bebel Gilberto numa palavra, eu diria: pedigree. Nada melhor me ocorre para resumir alguém que tem João Gilberto como pai, a mãe é Miúcha e o avô é Sérgio Buarque de Holanda. E é sobrinha de Ana de Holanda, Cristina e um certo Chico Buarque. Mais pedigree, impossível. Bebel é precoce, também devido a suas origens: antes de completar nove anos já se apresentara no Carnegie Hall, com Miúcha e Stan Getz, e já participara de musicais infantis, levada pela mão do tio Chico. A estreia como profissional se deu aos 20 anos (1986), com o disco Bebel Gilberto, em que a filha de João interpreta canções dela, Cazuza e Roberto Frejat. Aqui, sua leitura de Nuvem negra.
(O.C.)