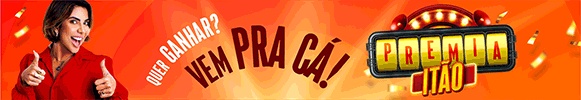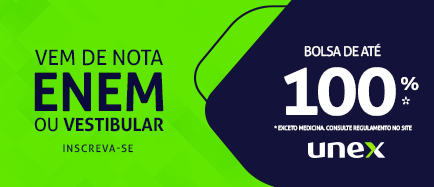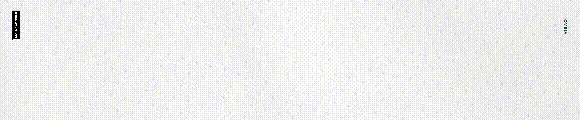ESSES CRIATIVOS CONSULTORES DE EMPRESAS
 O professor gaúcho Ricardo Mallet (foto, em ação) exerce uma atividade que está em moda há alguns anos no Brasil – consultor de empresas. Graduado em gestão empresarial, ele ganha a vida honestamente em andanças pela vastidão medida entre o Chuí e o Caburaí, fazendo palestras de incentivo às iniciativas de negócios. Não sei se participou de algum dos seminários de marketing que ocorrem há séculos em Itabuna, o que, aliás, não vem ao caso. Vem ao caso sua “descoberta” de que os grandes e principais vícios dos brasileiros (não digo “da humanidade” devido às diferentes línguas do planeta) começam com c.
O professor gaúcho Ricardo Mallet (foto, em ação) exerce uma atividade que está em moda há alguns anos no Brasil – consultor de empresas. Graduado em gestão empresarial, ele ganha a vida honestamente em andanças pela vastidão medida entre o Chuí e o Caburaí, fazendo palestras de incentivo às iniciativas de negócios. Não sei se participou de algum dos seminários de marketing que ocorrem há séculos em Itabuna, o que, aliás, não vem ao caso. Vem ao caso sua “descoberta” de que os grandes e principais vícios dos brasileiros (não digo “da humanidade” devido às diferentes línguas do planeta) começam com c.COCAÍNA, CRACK E MACONHA COMEÇAM COM C
 Diz o palestrante em seu blog que, durante uma viagem de ônibus, começou a pensar no assunto e chegou a conclusões que agora passo a quem aprecie inutilidades. “De drogas leves a pesadas, bebidas, comidas ou diversões, percebi que todo vício curiosamente começava com c”. E aí vai a lista: cigarro (“que causa mais dependência que muita droga pesada”) começa com c”, cocaína, crack e maconha, também. Maconha? Sim, pois “maconha é apenas o apelido da cannabis sativa”. Entre as bebidas, cachaça, cerveja e café. Este, “muitos gaúchos trocaram pelo chimarrão e não adiantou: também tem inicial c”.
Diz o palestrante em seu blog que, durante uma viagem de ônibus, começou a pensar no assunto e chegou a conclusões que agora passo a quem aprecie inutilidades. “De drogas leves a pesadas, bebidas, comidas ou diversões, percebi que todo vício curiosamente começava com c”. E aí vai a lista: cigarro (“que causa mais dependência que muita droga pesada”) começa com c”, cocaína, crack e maconha, também. Maconha? Sim, pois “maconha é apenas o apelido da cannabis sativa”. Entre as bebidas, cachaça, cerveja e café. Este, “muitos gaúchos trocaram pelo chimarrão e não adiantou: também tem inicial c”.
“SEM TER NADA INTERESSANTE PARA FAZER”
 O consultor diz que se envolveu em tais lucubrações num momento em que estava “sem nada interessante para fazer”, o que parece óbvio. Talvez por semelhante motivação, vou adiante nessa curiosidade. Citemos o chocolate e as comidinhas carregadas no sal ou no açúcar. E daí? Daí que sal é cloreto de sódio (olha o c aí!) e o açúcar vem da cana do mesmo nome. Para arrematar, o professor nos impõe uma conclusão um pouquinho forçada: “Coca-Cola vicia e Pepsi, não”. Por que? Fácil: a primeira tem dois cês; a segunda, nenhum! Faltou lembrar que consultor (em que algumas pessoas se viciam) também começa com c.
O consultor diz que se envolveu em tais lucubrações num momento em que estava “sem nada interessante para fazer”, o que parece óbvio. Talvez por semelhante motivação, vou adiante nessa curiosidade. Citemos o chocolate e as comidinhas carregadas no sal ou no açúcar. E daí? Daí que sal é cloreto de sódio (olha o c aí!) e o açúcar vem da cana do mesmo nome. Para arrematar, o professor nos impõe uma conclusão um pouquinho forçada: “Coca-Cola vicia e Pepsi, não”. Por que? Fácil: a primeira tem dois cês; a segunda, nenhum! Faltou lembrar que consultor (em que algumas pessoas se viciam) também começa com c.QUATRO PALAVRAS E LUGAR NA HISTÓRIA
 Uma frase não deve ter, em benefício de sua clareza, muitas palavras. Esta tem 12. Getúlio Vargas, num palanque em Ilhéus, usou 15: “Façam-me a ponte para o Catete e eu vos farei a ponte para o Pontal”; com os dez termos de “O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever” o almirante Barroso entrou para a história; Gagarin (quase um século depois) foi fazer companhia ao velho comandante, com apenas quatro: “A terra é azul”… Quantas palavras devemos usar numa frase? Não há regra. Mas Dad Squarisi (foto), musa desta coluna, dá uma dica valiosa: “Use sentenças de, no máximo, uma linha e meia”. Logo, modestamente concluo: ao contar vinte termos, cuidado (nenhuma das citações feitas acima chegou a tanto).
Uma frase não deve ter, em benefício de sua clareza, muitas palavras. Esta tem 12. Getúlio Vargas, num palanque em Ilhéus, usou 15: “Façam-me a ponte para o Catete e eu vos farei a ponte para o Pontal”; com os dez termos de “O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever” o almirante Barroso entrou para a história; Gagarin (quase um século depois) foi fazer companhia ao velho comandante, com apenas quatro: “A terra é azul”… Quantas palavras devemos usar numa frase? Não há regra. Mas Dad Squarisi (foto), musa desta coluna, dá uma dica valiosa: “Use sentenças de, no máximo, uma linha e meia”. Logo, modestamente concluo: ao contar vinte termos, cuidado (nenhuma das citações feitas acima chegou a tanto).FRASE LONGA E UNIÃO DE FRASES CURTAS
 Tal qual Freud, a musa explica: “a pessoa só consegue dominar determinado número de palavras, antes que os olhos peçam uma pausa. A frase muito longa dá trabalho, confunde”. Finalizando, diz a mestra que “uma frase longa nada mais é do que duas curtas”. E aí entro eu, de novo, com minha colher de pau: tenho visto sentenças tão longas que precisariam ser divididas não em duas, mas em três ou quatro. “Não quis Deus que os meus cinquenta anos de consagração ao direito viessem receber, no templo do seu ensino, em São Paulo, o selo de uma grande benção, associando-se hoje com a vossa admissão ao nosso sacerdócio, na solenidade imponente dos votos que o ides esposar” – é frase de Rui Barbosa (foto), com 46 palavras.
Tal qual Freud, a musa explica: “a pessoa só consegue dominar determinado número de palavras, antes que os olhos peçam uma pausa. A frase muito longa dá trabalho, confunde”. Finalizando, diz a mestra que “uma frase longa nada mais é do que duas curtas”. E aí entro eu, de novo, com minha colher de pau: tenho visto sentenças tão longas que precisariam ser divididas não em duas, mas em três ou quatro. “Não quis Deus que os meus cinquenta anos de consagração ao direito viessem receber, no templo do seu ensino, em São Paulo, o selo de uma grande benção, associando-se hoje com a vossa admissão ao nosso sacerdócio, na solenidade imponente dos votos que o ides esposar” – é frase de Rui Barbosa (foto), com 46 palavras.NOSSA MÍDIA GANHA ATÉ DE RUI BARBOSA
 A sentença ruibarbosiana (Oração aos moços/1920) não é recorde de gigantismo – e, afinal, Rui é Rui. Vejam esta, de lavratura regional: “Assim, foi que, em 5 de junho de 1972, na primeira conferencia das Nações Unidas sobre o meio ambiente, nasceu a nível internacional as primeiras ações chamando atenção do mundo para temas como poluição e degradação ambiental, trazendo no item 6 da declaração, a necessidade de ´defender e melhorar o ambiente humano para as atuais e futuras gerações´, mas que sozinhas não seriam suficientes e por isso mesmo, foi objetivado ser alcançado com a paz, o desenvolvimento econômico e social”. Ufa! Um tijolaço de 80 palavras (transcrito da exata forma como saiu no blog).
A sentença ruibarbosiana (Oração aos moços/1920) não é recorde de gigantismo – e, afinal, Rui é Rui. Vejam esta, de lavratura regional: “Assim, foi que, em 5 de junho de 1972, na primeira conferencia das Nações Unidas sobre o meio ambiente, nasceu a nível internacional as primeiras ações chamando atenção do mundo para temas como poluição e degradação ambiental, trazendo no item 6 da declaração, a necessidade de ´defender e melhorar o ambiente humano para as atuais e futuras gerações´, mas que sozinhas não seriam suficientes e por isso mesmo, foi objetivado ser alcançado com a paz, o desenvolvimento econômico e social”. Ufa! Um tijolaço de 80 palavras (transcrito da exata forma como saiu no blog).
SOBRE RACISMO E DISCRIMINAÇÃO SOCIAL
 O filme se passa em 1959. Um viúvo, compositor de jingles, branco, tem problemas com a filha de sete anos, por isso precisa urgentemente de uma babá. Entrevista várias candidatas, até encontrar uma recém-formada, que não consegue arrumar trabalho, por ser negra. A esta altura, a menina (Molly/Lina Majorino), de birra, parara até de falar. E ele (Manny/Ray Liotta) não parara de fumar, o que, segundo Molly “descobriu”, vai levá-lo à morte. Pior: a babá (Corina/Whoopi Goldberg) também é fumante. Falamos de Corina, uma babá perfeita/1994. Por trás da fórmula água com açúcar, Uma babá… trata de racismo e discriminação social, embora de forma sutil, por isso discordo de que se trata apenas uma história romântica xaroposa.
O filme se passa em 1959. Um viúvo, compositor de jingles, branco, tem problemas com a filha de sete anos, por isso precisa urgentemente de uma babá. Entrevista várias candidatas, até encontrar uma recém-formada, que não consegue arrumar trabalho, por ser negra. A esta altura, a menina (Molly/Lina Majorino), de birra, parara até de falar. E ele (Manny/Ray Liotta) não parara de fumar, o que, segundo Molly “descobriu”, vai levá-lo à morte. Pior: a babá (Corina/Whoopi Goldberg) também é fumante. Falamos de Corina, uma babá perfeita/1994. Por trás da fórmula água com açúcar, Uma babá… trata de racismo e discriminação social, embora de forma sutil, por isso discordo de que se trata apenas uma história romântica xaroposa.UM PAINEL DO JAZZ POUCAS VEZES VISTO
 Corina é babá por necessidade, pois tem sólida formação em literatura e música, o que a leva a aportar comentários pertinentes sobre jazz e e publicidade. Aliás, Uma babá… oferece um dos melhores painéis do jazz já visto no cinema (com Billie Holiday, Duke Ellington, Dinah Washington, Sarah Vaughan, Armstrong & Oscar Peterson, além de valiosas citações. Por exemplo, num bar noturno, Jevetta Steele canta os primeiros versos de Over the rainbow (aquela de O mágico de Oz), com o sax tenor de Rickey Woodard ao fundo (que eu não conhecia), me deixando com ganas de sair correndo e comprar o CD, ou Dinah Washington, com What a diffrerence a day makes, standard que sempre ouço com satisfação. Mas o melhor só vem no final.
Corina é babá por necessidade, pois tem sólida formação em literatura e música, o que a leva a aportar comentários pertinentes sobre jazz e e publicidade. Aliás, Uma babá… oferece um dos melhores painéis do jazz já visto no cinema (com Billie Holiday, Duke Ellington, Dinah Washington, Sarah Vaughan, Armstrong & Oscar Peterson, além de valiosas citações. Por exemplo, num bar noturno, Jevetta Steele canta os primeiros versos de Over the rainbow (aquela de O mágico de Oz), com o sax tenor de Rickey Woodard ao fundo (que eu não conhecia), me deixando com ganas de sair correndo e comprar o CD, ou Dinah Washington, com What a diffrerence a day makes, standard que sempre ouço com satisfação. Mas o melhor só vem no final.NO FIM, UM CLÁSSICO DA CANÇÃO GOSPEL
 Para encerrar, a menina Molly tenta fazer a avó (Eva/Erika Yohn), dilacerada pela morte do marido, solfejar This little light of mine (um clássico da canção gospel), conseguindo arrancar-lhe um canto rouco e triste, em seguida coberto pelas vozes poderosas do grupo vocal The Steeles (Billy, Fred, JD, Jearlyn e Jevetta). Infelizmente, já não tenho o DVD (e também não o encontro em nenhuma loja da internet), o que dificultou a edição deste vídeo. Mas, modéstia à parte, o material aqui mostrado (com um pouco da última cena de Uma babá… e 48 segundos de Jevetta Steele a cappella) é suficiente para ouriçar todos os pelos do corpo e ainda umedecer os olhos – desde que não haja nada errado com sua sensibilidade. Se duvida, clique.
Para encerrar, a menina Molly tenta fazer a avó (Eva/Erika Yohn), dilacerada pela morte do marido, solfejar This little light of mine (um clássico da canção gospel), conseguindo arrancar-lhe um canto rouco e triste, em seguida coberto pelas vozes poderosas do grupo vocal The Steeles (Billy, Fred, JD, Jearlyn e Jevetta). Infelizmente, já não tenho o DVD (e também não o encontro em nenhuma loja da internet), o que dificultou a edição deste vídeo. Mas, modéstia à parte, o material aqui mostrado (com um pouco da última cena de Uma babá… e 48 segundos de Jevetta Steele a cappella) é suficiente para ouriçar todos os pelos do corpo e ainda umedecer os olhos – desde que não haja nada errado com sua sensibilidade. Se duvida, clique.O.C.